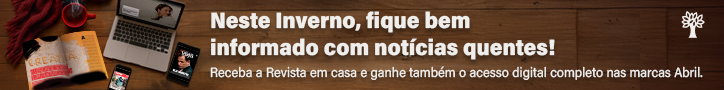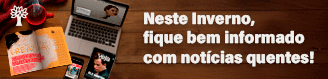“Quebrei muito a cara e fiz muito sucesso”, diz Jorge Takla
Diretor libanês que escolheu São Paulo como casa disseca seus 50 anos de carreira e a nova versão da ópera Carmen, que estreia no Theatro Municipal

Jorge Takla, 72, completa meio século de carreira neste ano. O diretor, nascido no Líbano e radicado em São Paulo desde 1977, assina a nova montagem da ópera Carmen, de Georges Bizet, com libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy, que estreia nesta sexta (3) no Theatro Municipal.
Com sete récitas esgotadas, a nova versão ambienta a trágica história em um ateliê de alta-costura, na Sevilha dos anos 40 e 50. “No meu começo de carreira, trabalhei três anos como ator. Era péssimo (risos)”, conta o encenador, filho de mãe brasileira e pai libanês.
Seus primeiros passos no teatro foram no Conservatoire d’Art Dramatique, em Paris, e no La MaMa Theater, em Nova York, antes de se mudar para a capital paulista. “São Paulo é a melhor cidade do mundo”, afirma, sem pestanejar.
Por aqui, traçou uma prolífica e relevante carreira como diretor, com dezenas de produções entre peças, como Mademoiselle Chanel, estrelada por Marília Pêra em 2004, musicais, como Cabaret, em 1989, e óperas, como La Traviata, em 2018. Confira a entrevista.
O que o inspirou a ambientar Carmen no universo da moda?
No romance original, Carmen é uma figura muito barra-pesada — uma prostituta, contrabandista, drogada, assassina. Quando a Opéra Comique, em Paris, encomendou a obra, como seu público era mais familiar, pedi ram para a violência ser abrandada. Por isso que, no libreto, seu lado criminoso é suavizado. A parte trágica e pesada foi mantida na música, com todas as entrelinhas dramáticas. Como é essencialmente uma ópera francesa, trouxe para um mundo mais parisiense e fashion. Carmen é a estrela de uma casa de alta-costura e, paralelamente, contrabandista e chefe de uma guerrilha de revolucionários.
Como você espera impactar o público com a montagem de uma obra tão recorrente nas casas de ópera?
É um motivo pelo qual quis dar uma nova roupagem. Nos últimos anos, foram feitas muitas montagens de Carmen no Brasil, maravilhosas, mas todas tradicionais. A cenografia é monumental, são quatro cenários grandes — fiz questão de manter uma linguagem teatral, sem projeções e pirotecnia. E figurinos bem-feitos, porque Pablo Ramírez é um estilista argentino muito respeitado e perfeccionista.
Por que decidiu morar em São Paulo, depois de viver nos Estados Unidos e na França?
É algo visceral. Saí do Líbano muito cedo, meu pai era diplomata, então fui morar na Europa. Em Paris e Nova York, eu sempre me sentiria um estrangeiro. Em São Paulo, sentia que tudo era possível e que poderia desenvolver a minha linguagem. Amo esta cidade desde criança, sempre sonhei morar aqui. Meu avô materno é um imigrante libanês que fez a sua fortuna em São Paulo, então tinha essa imagem de tudo que a cidade tem a oferecer. E não me decepcionei, não trocaria por nenhum outro lugar no mundo.
Como os diferentes gêneros teatrais fizeram parte da sua formação, antes de chegar ao Brasil?
De 1968 a 1976, tive influências de todos os grandes diretores… Bob Wilson, Andrei Serban, os musicais da Broadway, as óperas em Paris. E trabalhava como ator, assistente de direção, iluminador, um pouco de tudo. Foi difícil, porque, nessa idade, você assimila tudo e fica sem identidade. Mas foram ferramentas muito sólidas para o resto da minha carreira. Nesses cinquenta anos, quebrei muito a cara e fiz muito sucesso, ganhei e perdi muito dinheiro. Nunca fiz nada com uma finalidade essencialmente comercial, sempre foi uma busca por expressão.
“Conseguir um patrocínio é uma luta de anos, e depois, para a peça sobreviver, é outra história. Se o público não vem, não adianta”
Você já disse que sofreu preconceito na sua carreira. Por quê?
Por vários motivos. Primeiro, cheguei aqui aos 26 anos com possibilidades de trabalho muito boas. Eu falava muitas línguas, talvez fosse um pouco arrogante, e minha família era muito rica — já não é mais. Então era visto como “filhinho de papai”. Depois, houve um preconceito racial também, por ser árabe. E comecei a fazer sucesso, o que as pessoas não perdoam quando você é jovem. Apanhei muito. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer que os grandes (artistas do teatro) sempre estiveram comigo, e fizemos coisas importantes juntos. Não posso me queixar. Tive muita sorte, me considero muito privilegiado. Foram muitos fracassos, mas acho que nunca fiz porcaria (risos).
Qual a sua visão sobre o modelo de incentivo público ao teatro no Brasil?
Antigamente, havia grandes produtores que colocavam dinheiro do próprio bolso. Essas figuras não existem mais, porque é um risco. Se a peça tinha sucesso, depois de dois meses começava a entrar lucro, as pessoas viviam disso. Hoje, mesmo com dois anos de casa cheia, o investimento não é recuperado. Fazer teatro custa muito caro e o ingresso continua barato em relação ao custo. É caro para o consumidor, mas não o suficiente para pagar a produção. O modelo atual é o que nos faz sobreviver. Sem isso, não trabalhamos. É muito injusto quando falam que as pessoas ganham dinheiro às custas do povo com a Lei Rouanet. Conseguir um patrocínio é uma luta de anos, e depois, para a peça sobreviver, é outra história. Se o público não vem, não adianta.
Como você participou da chegada dos grandes musicais ao Brasil?
Lutei muito para implantar no Brasil essa linguagem que hoje é um grande comércio. Não faço mais, porque tem muita gente fazendo e já fiz as grandes obras que queria. As pessoas consideravam uma arte alienada e eu sempre fui dividido entre os universos do entertainment e do teatro mais intelectual. Fiz meu primeiro grande musical em 1989, Cabaret, que foi um sucesso estrondoso. Em 2002, a CIE Brasil (atual Time For Fun) me chamou para dirigir sua divisão de teatro. Batalhei pela formação de técnicos e artistas. Hoje existe mercado e público. Em vinte anos, evoluiu de forma extraordinária.
Você dirigiu sua primeira ópera há 35 anos, As Bodas de Fígaro, e ultimamente vem trabalhando bastante com o gênero. Pensa em voltar para outros formatos?
Acho que dirigi umas trinta óperas. É um nicho que sempre existiu, cabe a nós mantê-lo vivo com produções, mesmo que polêmicas, criativas e atraentes. Se houvesse trinta apresentações de Carmen, todas estariam lotadas. Dirigi meu último musical em 2016, e um ano antes fiz uma comédia com a Marília Gabriela. Faz muito tempo que não faço teatro. Tenho um projeto, que é o sonho da minha vida, de fazer Abajur Lilás, de Plínio Marcos. Nenhum patrocinador quer fazer, poucos atores aceitam. É uma obra muito forte e, infelizmente, ninguém quer se arriscar e falar de censura e ditadura. Para mim, hoje, teatro tem de ser com muito tesão ou muito dinheiro. Como muito dinheiro não vai ter de parte nenhuma, nos resta o tesão.
Como a morte de Marília Pêra, em 2015, o impactou?
Quando ela morreu, perdi uma grande inspiração na minha vida. A gente tinha um casamento artístico muito forte, muitas brigas também, mas todos os meus sonhos de teatro foram encaminhados em conjunto com ela. Foi um baque muito grande, perdi um pouco o tesão pelo teatro. Fizemos quatro trabalhos juntos, foi intenso, e tínhamos muitos sonhos pela frente
Publicado em VEJA São Paulo de 3 de maio de 2024, edição nº 2891


 Três médicos de SP integram ranking de cientistas mais influentes do mundo
Três médicos de SP integram ranking de cientistas mais influentes do mundo Close aos 60: como é a vida na terceira idade para artistas LGBTQIAPN+
Close aos 60: como é a vida na terceira idade para artistas LGBTQIAPN+ Rua 25 de Março na mira de Trump? Entenda o que é famoso centro de comércio popular
Rua 25 de Março na mira de Trump? Entenda o que é famoso centro de comércio popular Polícia prende padrasto suspeito de envenenar enteado em São Bernardo
Polícia prende padrasto suspeito de envenenar enteado em São Bernardo O que fazer na Liberdade? Confira um guia com endereços e dicas do bairro
O que fazer na Liberdade? Confira um guia com endereços e dicas do bairro