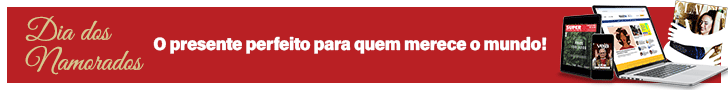“Tenho um compromisso longevo com a minha juventude”, diz Chico César
O cantor e compositor paraibano, que estreia na dublagem como o bode Severino da animação 'Arca de Noé', fala sobre os seus 60 anos, política e projetos futuros

Chico César, 60, está perto de completar quarenta anos em São Paulo.
O cantor e compositor paraibano, formado em jornalismo, chegou à capital paulista em maio de 1985, ainda dez anos antes de lançar o seu disco de estreia, Aos Vivos (1995).
Desde então, estabeleceu-se como um dos grandes nomes da música brasileira, com uma carreira pujante que, só nos últimos dois anos, incluiu uma turnê com Geraldo Azevedo e quatro discos — um solo e três em parceria, com nomes como Zeca Baleiro, Laila Garin e os argentinos Rojobarcelo e Blanca, na mais recente, Belezas pra Nós (2024).
Mas o seu último trabalho não é na música, e sim no cinema: Chico fez a sua estreia na dublagem com a animação Arca de Noé (2024), em cartaz desde o dia 7, inspirada na obra de Vinicius de Moraes.
Sobre esse e outros projetos, ele falou à Vejinha.
Como surgiu o convite para o filme?
Chegou talvez um pouco antes da pandemia, faz um tempo. Cinema é algo muito delicado, e animação é um trabalho bizarro de criação, quase manual. Quando disseram que eu faria um bode que cantava coco, entendi por que me chamaram. Tem tudo a ver comigo, e o bode é um animal sertanejo, que representa muito a resistência do nordestino. Foi uma experiência muito bacana, fiquei feliz de participar.
Você pensa em fazer mais projetos infantis?
Esse trabalho me despertou um desejo de fazer mais coisas, porque o meu trabalho dialoga muito com as crianças. Como os vocais no meu primeiro disco, com letras que não querem dizer nada objetivamente, como “Ô amarrara dzaia soiê/Dzaia dzaia aí iii iinga dunrã” (refrão de À Primeira Vista). As crianças amam sons que parecem superelaborados, dodecafônicos. Nós todos, quando pequenos, somos assim, antes de sermos domesticados dentro da coisa ocidental, modal, tonal. As crianças são atonais e gostam quando aparece algo que lembra isso.
Você completou 60 anos em janeiro. Como está encarando essa nova fase?
Um artista que me influencia muito sobre a questão da idade é o Ney Matogrosso. Ele nunca fica o tempo inteiro com o retrovisor ligado, olhando para trás, celebrando os tantos anos de carreira. Todo momento para ele é novo, e quero ter isso como referência para mim. Quando faço 60, penso que quero estar vivo, ativo e criativo até os 90. Meu pai viveu até 91 e minha mãe, até 92, então o meu compromisso é ir até a idade deles. Um pouco antes da pandemia, parei de tomar álcool. Não foi uma decisão, algo pensado. Com seis meses de pandemia, me tornei vegano. Depois, parei com o café também. Organicamente, cheguei aos 60 com um foco na saúde. Também criei muito nos últimos anos, encontrei os argentinos Rojobarcelo e Blanca, com quem fiz um disco que estamos lançando agora (Belezas pra Nós), fui para a França gravar um álbum (Vestido de Amor, de 2022), criei um show com o Geraldo Azevedo, outro com o Zeca Baleiro, então havia uma usina de energia sendo gerada dentro de mim. Chego aos 60 com uma alma nova, muito leve e aberta.
Em um comentário recente no Instagram, você disse que “a acomodação é um tipo de morte lenta”. Em que sentido?
Acredito que a vida acomodada é meio sem sentido, principalmente para quem trabalha com criação. Sei que eu poderia fazer shows basicamente com os hits que tenho, mas isso me envelheceria muito rápido. E o que eu espero de mim, e espero que meu público também, é a inquietação. Que não é sempre no sentido de experimentação, de fazer coisas estranhas, mas sim de novas canções, encontros, posturas, arranjos. É claro que você não vai ter sempre 20 anos… mas tenho um compromisso longevo com a minha juventude, de manter esse fogo aceso, vivo em mim.
“Antes da pandemia, parei de tomar álcool. Não foi pensado. Me tornei vegano, parei com o café. Organicamente, cheguei aos 60 com foco na saúde”
Em 2025, o seu disco de estreia, Aos Vivos, completa trinta anos. Tem planos de comemoração?
Tenho vontade de celebrar, quero fazer o show voz e violão, talvez convidar um ou uma guitarrista. Outro projeto é fazer o álbum com orquestra. Mas como eu tenho o Ney Matogrosso soprando no meu ouvido para não ficar só no passado, tenho tido vontade de gravar as músicas anteriores, que não entraram naquele repertório — canções da minha lira dos 20 anos, de quando ainda morava na Paraíba e fazia músicas que têm a ver com Vanguarda Paulistana, Elomar, Guinga. Não seria um disco só com coisas daquele momento, teria composições de agora também, que conversam. Juntar e ver que o menino de 20 anos e o homem de 60 caminham juntos, um cuidando do outro.
A Fampop, festival de canção em Avaré, foi importante no início da sua carreira. Esse formato ainda existe, mas sem a força de antes — os grandes festivais de canção podem ser resgatados?
Um veículo que acreditou muito nos festivais, a televisão, começou a desacreditar na força da composição. Porque a TV continua fazendo programas competitivos de música, como o The Voice, mas o foco agora está no canto. Recentemente até tentaram uma mistura de música com reality show (Estrela da Casa, da TV Globo). As televisões precisam pensar: se não está dando muito certo, o que falta? Falta composição. Se me permitem uma sugestão: façam outra vez um grande festival de composição. Experimentem. Este país tem muitos compositores.
Você declarou apoio a Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições. Como enxerga o quadro político do país?
Enxergo com otimismo. Estamos indo para um lugar muito escuro, desde o golpe contra a Dilma, e a volta do Lula foi um respiro. Mas toda vez que a gente vai para um lugar muito escuro, novas luzes se acendem. É preciso entender esse novo escuro e iluminá-lo com novas lanternas. Sou uma pessoa bastante radical, no meu âmago. Eu gostaria de juntar essa radicalidade com uma frente ampla de verdade, não pautada por interesses imediatistas de poder. Sinto que a sociedade justa e fraterna que a gente deseja não vai acontecer agora. O Boulos ter tido a votação apenas um pouco maior do que a anterior é um sinal de que a sociedade não nos vê como os representantes que ela deseja. Precisamos de uma frente ampla brasileira, sem excluir os setores da juventude, os sem-terra, os sem-teto, os movimentos identitários. Desse espectro à esquerda até um centro ou centro-direita honesta, de quem entende que a pauta política não pode ser dominada pela extrema direita. Se nós não nos encontrarmos e conversarmos, vamos jogar o nosso destino nas mãos de uma extrema direita cruel, desumana, egoísta, escravagista e machista.
Publicado em VEJA São Paulo de 15 de novembro de 2024, edição nº 2919


 Empresário morto em Interlagos pode ter recebido mata-leão em briga
Empresário morto em Interlagos pode ter recebido mata-leão em briga Festas que terminam à meia-noite fazem sucesso entre público na casa dos 60 anos
Festas que terminam à meia-noite fazem sucesso entre público na casa dos 60 anos Cátia Fonseca deixa a Band e faz post enigmático; “Nunca se esqueçam”
Cátia Fonseca deixa a Band e faz post enigmático; “Nunca se esqueçam” Alexandre Pavão lança collab com a Melissa
Alexandre Pavão lança collab com a Melissa Correio elegante: as 20 melhores frases para paquerar na Festa Junina
Correio elegante: as 20 melhores frases para paquerar na Festa Junina