A quebrada nas urnas: candidatos tentam transformar perfil da Câmara
Em comum, jovens candidaturas têm o caminho da educação e a dificuldade para financiar campanhas

“É a primeira vez que a periferia tem uma participação de peso nas eleições de São Paulo.” A afirmação é da paulistana Tabata Amaral (PDT), 26, que deixou a modesta Vila Missionária, na Zona Sul, para ocupar uma cadeira no Congresso Federal em 2018. “De peso”, ela explica, significa um número expressivo de candidaturas, com nomes competitivos e realmente ligados ao cotidiano desses bairros — muito além da meia dúzia de líderes comunitários que sempre manteve cercadinhos eleitorais nas franjas da cidade.
Essa percepção, compartilhada por diversos cientistas políticos, não é fácil de ser traduzida em números. Candidatos a vereador não precisam informar seu endereço residencial à Justiça Eleitoral (usam, quase sempre, o do diretório partidário). O Tribunal Superior Eleitoral também não disponibiliza dados agregados sobre a declaração de bens dos concorrentes. Mas a mudança está visível — a própria deputada federal apoia mais de 100 candidaturas com esse perfil país afora. Em 2020, pela primeira vez, o número de postulantes negros e indígenas superou o de brancos no Brasil: 50,35% contra 48,05% — isso é significativo porque a proporção de pessoas não brancas que vivem em áreas classificadas pelo IBGE como “aglomerados (urbanos) subnormais” é quase o triplo da registrada entre os brancos na capital. A metrópole segue a tendência e terá maior diversidade nas urnas. Na última eleição para vereador, em 2016, os brancos eram 66%. A parcela caiu para 60% no pleito atual, cedendo terreno para as minorias. “É um avanço importante. Ele reflete um movimento global de segmentos historicamente não representados que buscam ocupar diversos espaços”, diz Jorge Abrahão, coordenador da Rede Nossa São Paulo.

Para entender o novo cenário eleitoral paulistano, Vejinha conversou com alguns dos candidatos periféricos de diferentes partidos, bandeiras políticas e regiões da cidade. Dentro do grupo, algumas características se mostram recorrentes. A mais relevante está ligada a um problema que a periferia se cansou de conhecer: a falta de dinheiro — no caso, para custear campanhas. “A correlação é clara: candidatos com maior financiamento são aqueles com mais chances de vencer, principalmente em eleições proporcionais, nas quais centenas de nomes disputam a atenção dos eleitores”, diz o cientista político Lucas Gelape, que estuda na USP a carreira dos vereadores. “Após o fim do financiamento empresarial nas eleições (em 2015), o destino das verbas de campanha ficou nas mãos dos caciques partidários — que, via de regra, não são pessoas periféricas”, ele explica. Não é surpresa que, em 2016, os paulistanos tenham eleito só dois vereadores negros (3,5% do total) e 22 milionários (40% da Câmara Municipal).
+Assine a Vejinha a partir de 6,90
A discrepância já reaparece nas eleições de 2020. Até o dia 12 de outubro, os candidatos brancos tinham recebido 79,23% da verba partidária (apesar de, como dito, serem 60% das candidaturas). Mulheres negras? Só 1,92% dos recursos — os dados são da plataforma 72 horas, que agrega informações sobre os fundos eleitorais. “Essas verbas públicas representaram 92% dos recursos usados pelos candidatos em 2018 (o restante foi autofinanciamento e doações de pessoas físicas), por isso são decisivas”, diz Fernanda Costa, co-idealizadora do site e pesquisadora do assunto.
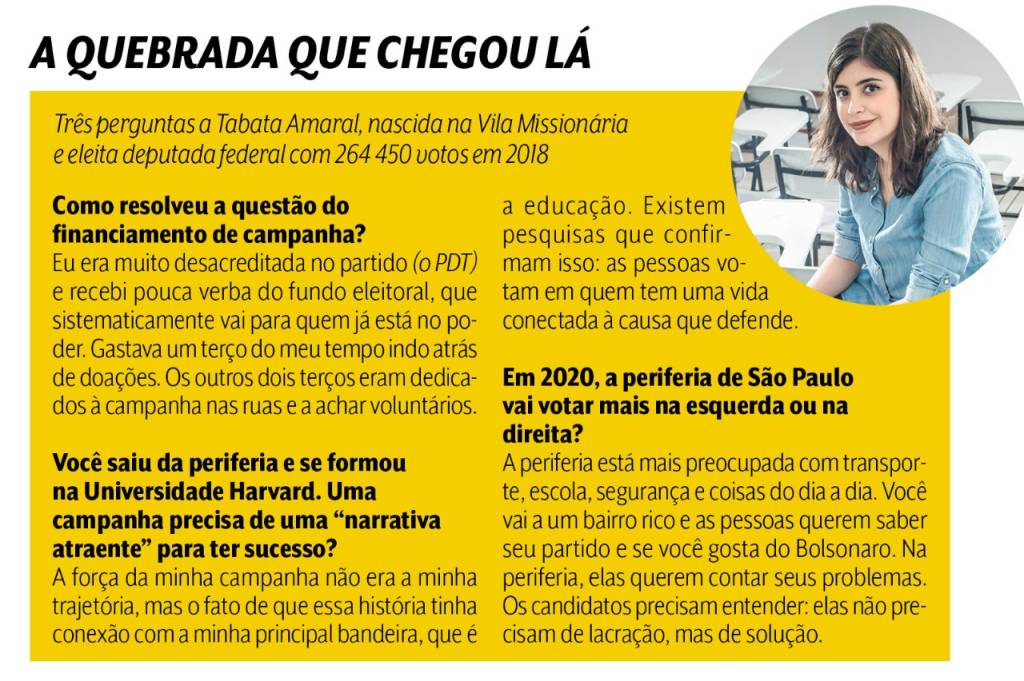
“A parte mais difícil de uma campanha é conseguir dinheiro. Não sou uma candidata midiática ou youtuber, né?”, diz Aline Torres (MDB), 34, de Pirituba. Depois de 17 anos na ala jovem do PSDB (onde ingressou após conhecer Geraldo Alckmin na fila de um programa para desempregados), ela decidiu deixar o partido (descontente com a liderança conservadora de João Doria) e se candidatar por outra legenda que avaliou ter potencial nas urnas. Para pagar a empreitada, organizou um jantar on-line com possíveis doadores. “Uma campanha ideal custaria 300.000 reais”, ela diz — em 2016, o valor médio das campanhas vitoriosas para vereador, em São Paulo, foi de 345 000 reais. “Somados o fundo partidário e as doações, che- garei no máximo a 150 000.” Entre as candidaturas periféricas, porém, essas cifras podem ser um tanto mais apertadas. “Enfrento grandes dificuldades, porque não se faz campanha sem dinheiro”, diz Keit Lima (PSOL), 29, da Brasilândia. “Vou receber 9.000 reais dos fundos públicos, enquanto homens brancos do mesmo partido ganharão 96.000”, ela afirma. “Financiamento coletivo? As pessoas que conheço estão lutando para sobreviver, não podem ajudar”, diz.

Outro ponto comum a esses postulantes é que todos parecem ter vivido o milagre que a educação costuma operar em pessoas de baixa renda que, por um motivo ou outro, furam a bolha das escolas de qualidade. Aline, a ex-tucana, só entrou na faculdade após uma série de cursinhos gratuitos (e a mãe vendeu um Fiat Palio para pagar a matrícula). Keit, do PSOL, é a primeira da família a se graduar e chegou a atuar em grandes empresas graças ao programa Jovem Aprendiz. Apadrinhada por Tabata Amaral, Malu Molina (Cidadania), 27, também é a primeira formada entre os familiares. Trabalhou desde os 14 anos na Galeria do Rock para pagar os estudos. Rafael Shouz (PDT), 25, chegou perto de repetir o itinerário da deputada mais famosa do partido: após cursar o ensino médio em escolas públicas da Vila Inglesa, passou em um processo seletivo das universidades Harvard (onde Tabata estudou astrofísica) e MIT, nos Estados Unidos, nas quais participaria de um programa que acabou cancelado pela pandemia — ele deve fazer o curso no ano que vem. Ajudado por um cursinho popular, atualmente faz gestão de políticas públicas na USP e chegou a estudar um mês na Universidade de Nova York, em 2018.

Talvez venha daí a recorrência do tema “educação” entre os candidatos periféricos. “Como moro na quebrada, senti essa transformação na pele”, afirma Shouz. “Na escola, eu levava 1,50 para comprar uma pipoca e um Dollynho no recreio, mas 90% dos meus colegas não tinham nem isso. Aquilo me intrigava. Hoje, percebo que sou uma enorme exceção. Minha luta é para que mais pessoas tenham a mesma sorte”, ele diz. Mesmo em partidos menos ligados à causa educacional, essa bandeira se torna prioridade na voz de quem teve a vida transforma- da pelos livros didáticos. “O que me motivou a entrar para a política foi a educação”, diz Naira Sathiyo (Novo), 23. Filha de um metalúrgico (e ex-feirante) e de uma professora (que parou de trabalhar quando não achou vaga nas creches para a filha), ela fez o ensino fundamental em escolas públicas de Mirandópolis, um bairro de classe média. “Chegava a ganhar bolsas de 80% em colégios particulares, mas minha família não podia pagar os 20% que faltavam”, conta. A situação mudou quando ela conseguiu ajuda de um programa criado por Marcel Telles, da Ambev, que dá bolsas a jovens carentes nos melhores colégios de São Paulo. “Minha defasagem era enorme. No primeiro dia do ensino médio, o professor falou que iria revisar seno e cosseno — e eu simplesmente nunca tinha ouvido aquelas palavras. Não era fácil lidar com o preconceito, a realidade dos colegas era muito diferente da minha”, relembra. Agora, ela é mais uma que promete lutar pelas escolas públicas. Questionada sobre a pecha de “elitista” do partido, justifica: “Nunca tive amigo ou familiar na política, e o Novo facilita a entrada de pessoas assim”, diz. “E também acredito em uma economia mais aberta.”

Não é simples, mesmo, classificar esses novos conquistadores do território político no esquadro tradicional da direita e da esquerda. “Não participo dessa coisa de vermelhos e azuis”, diz Malu, a aposta de Tabata nestas eleições. Moradora da Vila Mazzei, a candidata afirma que entrou para a política “inspirada pela luta de Ciro Gomes contra a desigualdade”. Em 2019, ao contrário do cacique partidário, apoiou o voto de Tabata pela reforma da Previdência. “Não é uma medida concentradora de renda. Promove, inclusive, uma certa justiça e equidade”, ela diz. Por dois anos, trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo — o primeiro sob a gestão Fernando Haddad (PT), o segundo com Doria. Sem tomar lado, ela diz que algumas coisas melhoraram e outras pioraram na mudança. “A área de Direito à Memória e à Verdade declinou, mas priorizaram outras coisas que deram certo, como as ações para a juventude”, diz. Outro representante dessas candidaturas que embaralham estereótipos, Gabriel Oliveira (PSB), 32, arrisca uma resposta afiada para a questão do Fla-Flu partidário. Após morar em diversas quebradas paulistanas, ele se formou em direito e está de mudança para a Zona Leste. “Tenho um perfil mais social-democrata”, diz o candidato, “mas gosto mesmo é do que diz a (filósofa) Sueli Carneiro: entre a esquerda e a direita, eu continuo sendo preto”.

Por vezes, os limites da geografia também acabam borrados nesse debate. Um exemplo é Samuel Emílio (PSB), 24, a quem caberia o curioso rótulo de “periférico do Itaim”. Nascido em uma região pobre de Ipatinga (MG), ele começou a trabalhar aos 6 anos, como lavador de copos no bar de um tio. Em 2017, já morador de São Paulo, chegou a dormir por três meses no sofá de Tabata Amaral (sim, uma presença incontornável nessa safra de 2020…), também no Itaim. Hoje, aluga por 800 reais um quarto no bairro de elite. Nas bandeiras políticas, mistura a luta pela igualdade (mais identificada com a esquerda) e o cargo de coordenador nacional do Acredito, movimento de viés mais liberal. O perfil não binário parece ajudá-lo a criar pontes. “Mais de 80% dos meus doadores são brancos de classe média, que já prometeram cerca de 60.000 reais à campanha”, ele diz. “Consegui reunir mais de 400 voluntários para a candidatura. Para montar meu site, por exemplo, isso me economizou 10.000 reais.”

Mesmo observada a diversidade de partidos, uma turma de jovens periféricos engajados em política tende a demonstrar uma inclinação mais progressista. O que impõe a questão: como votará a periferia paulistana? Será progressista ou conservadora? Direita ou esquerda? Bem, essa estrada é longa e cheia de curvas… Em um passado já meio arqueológico, as quebradas de São Paulo chegaram a ser um reduto malufista — o rapper Mano Brown, do Capão Redondo, diz em entrevistas que toda a família dele votava no ex-prefeito apelidado de “rouba, mas faz”. Vieram os anos Lula, e a periferia se bandeou para a esquerda. Em 2012, Haddad venceu a eleição municipal com o apoio dos bairros pobres (enquanto Serra, derrotado, tinha prevalecido nas regiões centrais). O furacão político que teve seu ápice entre 2013 e 2015 fez o pêndulo mudar novamente. Em 2016, o ex-prefeito petista perdeu para o milionário João Doria em basicamente todas as periferias paulistanas (apenas em Parelheiros e no Grajaú deu Marta Suplicy; o melhor desempenho de Haddad foi em Pinheiros). Em 2018, no pleito presidencial, Bolsonaro venceu na maioria das quebradas da cidade, mas Haddad chegou na frente em distritos importantes como Parelheiros, Grajaú, Capão Redondo e Cidade Tiradentes. Na eleição atual, Celso Russomanno (Republicanos), candidato conservador apoiado pelo presidente, lidera a corrida pela prefeitura (24% no Ibope) e tem vantagem ainda maior entre quem recebe até um salário mínimo (31%). “Existe diversidade ideológica na periferia, com eleitores de ambos os espectros”, diz Gelape, da USP. “Mas os candidatos periféricos devem saber que conquistar os votos da vizinhança é insuficiente. Vereadores vitoriosos, embora possuam uma base sólida em algum bairro, sempre conseguem uma votação notadamente dispersa. Ou seja, dialogar com outros ambientes da cidade pode ajudar muito essas candidaturas.”

Entre especialistas e candidatos, é comum o dogma: a periferia não se importa com direita ou esquerda, ela quer soluções para seus problemas urgentes. Em Cidade Tiradentes, a 35 quilômetros do centro, Oziel Evangelista (PSDB), 41, adotou como bandeira eleitoral uma questão bem específica das quebradas e difícil de encaixar em clichês partidários: os pancadões. Quando foi subprefeito do bairro, entre 2017 e 2019, ele instituiu um programa para combater os encontros. Tinha ajuda da GCM, da CET e da Polícia Militar. Foram mais de trezentas ações — em uma delas, levou uma garrafada na mão. “Se eleito, vou transformar essa luta em lei”, diz.

Nos últimos anos, o cenário eleitoral brasileiro foi agitado por movimentos de renovação política surgidos na sociedade civil, como o RenovaBR, o Acredito e a RAPS. Essas iniciativas, ainda que carreguem certo rótulo de liberais (quase todas têm apoio de grandes empresários), exercem uma inequívoca influência sobre as novas candidaturas periféricas. É difícil encontrar um postulante que não tenha passado por essas formações. Mesmo Keit Lima, do PSOL (partido que, no Rio de Janeiro, vetou a candidatura de filiados que participem desses movimentos), é ex-aluna do RenovaBR e chegou a se ligar ao RAPS (no fim, não fez o curso porque precisou ajudar o pai, paciente grave de Covid-19). “O RenovaBR me ensinou questões técnicas sobre as eleições, só isso. Acho que é preciso uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto no partido. Não admito que desvalidem toda a trajetória de uma pessoa porque ela fez um curso de quatro meses”, provoca a candidata.

Os próprios cursos, porém, ainda são um espaço a ser ocupado de maneira igualitária pela periferia. No RenovaBR, dos 79 alunos que participaram das eleições para vereador em São Paulo, apenas 21 são pretos, pardos e indígenas (26%). “Esse indicador cresceu de 2018 para cá, mas ainda não é suficiente. Não estamos contentes”, diz Irina Bullara, diretora executiva da escola de formação política. “Vamos fazer mudanças em nosso processo seletivo para garantir mais equidade”, ela afirma.
No dia 15 de novembro, esse apanhado de questões será colocado na balança do eleitorado paulistano, que vai escolher os 55 novos (ou não tão novos) vereadores da cidade. Será uma disputa com mais candidatos (1.997 pedidos de registro contra 1.315 em 2016) e menos dinheiro (devido ao fim do financiamento empresarial). Também não existirão as coligações (o que dá ao eleitor a certeza de que seu voto não irá ajudar outras legendas) e a cláusula de barreira, outra inovação, reduzirá o efeito dos puxadores de voto. Por fim, uma decisão inédita do STF determinou a distribuição proporcional de recursos entre negros e brancos nos partidos (após as prestações de contas, saberemos se a regra foi cumprida ou se houve distorções espertalhonas, como nas cotas para mulheres em 2018). E, no rol de novidades, está a expressiva presença das periferias nas urnas. “A democracia pressupõe representatividade”, diz Bullara. “A participação periférica é fundamental para nossa democracia ser saudável”, ela diz. Se tudo isso resultará em um legislativo mais diverso? Aí é com os eleitores.
Publicado em VEJA SÃO PAULO de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709.



















