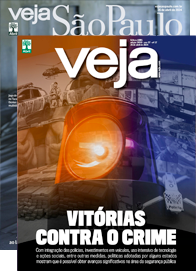André Garolli fala sobre “As Moças” e “Abajur LiIás”: “esses textos servem para discutir e repensar o comportamento dos tripulantes e passageiros do navio”
Aos 47 anos, o ator e diretor André Garolli vasculha um passado do qual tem remotas lembranças. Ele encena dois espetáculos lançados durante a ditadura militar brasileira. Protagonizado por Angela Figueiredo e Fernanda Cunha, “As Moças, o Último Beijo” foi escrito em 1969 por Isabel Câmara (1940-2006) e está no Teatro Augusta nas quartas e […]

Aos 47 anos, o ator e diretor André Garolli vasculha um passado do qual tem remotas lembranças. Ele encena dois espetáculos lançados durante a ditadura militar brasileira. Protagonizado por Angela Figueiredo e Fernanda Cunha, “As Moças, o Último Beijo” foi escrito em 1969 por Isabel Câmara (1940-2006) e está no Teatro Augusta nas quartas e quintas, às 21h. Da obra de Plínio Marcos (1935-1999), “Abajur Lilás” é do mesmo ano e volta em 9 de julho ao palco do Teatro Nair Bello, com Josemir Kowalick, Fernanda Viacava, Isadora Ferrite, Daniel Morozetti e Carol Marques no elenco. As duas peças integram um projeto dirigido por Garolli que estuda os homens à margem ou à deriva da sociedade.
“As Moças” e “Abajur Lilás” apresentam personagens mais perdidos e sem perspectivas? Talvez pelo fato de serem brasileiros e tudo por aqui ser mais difícil?
“As Moças” foi escrito em 1969 e fala sobre duas mulheres de idades, propósitos e visões de mundo diferentes. Estamos diante de uma ditadura, e elas representam para mim, de um lado, a parte da sociedade que, como meu pai, tinha que trabalhar, pagar as contas e ter um mínimo de dignidade. Do outro lado, a parte que resolveu se alienar, seja através das drogas, do puro deleite ou da covardia diante do “profissionalismo” que a vida exige. O que elas têm para se agarrar? O afeto. Esse destroço é o mesmo que existe entre o Giro e as prostitutas do seu mocó em “Abajur Lilás”. O que faz essas mulheres continuarem em um lugar pestífero com um homem que as explora sempre querendo o bem delas? Será que elas permanecem ali por não ter outra saída, por ver o barco afundar e não querer largar esse destroço por pior que seja? Ou realmente não há como largá-lo? Talvez a necessidade de saber nadar não lhes foi concedida? A necessidade de encontrarmos respostas para tudo o que aconteceu nesse período é a busca de algum destroço para podermos nos agarrar e seguir com um pouco mais de dignidade. Esses textos servem para discutir e repensar o comportamento dos tripulantes e passageiros do navio. E não sobre a rota que ele tomou.
Quais são as lembranças ou referências que você tem do tempo da ditadura militar?
Sou de uma geração que nasceu dentro da ditadura em uma família de classe média. Cresci ouvindo meu pai dizer que precisava trabalhar muito, pagar as contas e guardar dinheiro para ajudar nos estudos dos três filhos. Para muitos, a ditadura era uma questão circunstancial e havia alguns “baderneiros de plantão” sendo necessário manter a ordem. Estudei em colégio de freiras até a oitava série e só fui deparar com a ideia de uma ditadura violenta quando meu professor de geografia apareceu todo machucado, dizendo que tinham entrado na casa dele e quebrado tudo. No dia seguinte, ele não pode dar mais aulas e o assunto foi abafado. Percebi que havia algo de errado, mas continuei flutuando à deriva, em busca de algo concreto que pudesse me esclarecer o que seriam todas aquelas palavras ditas de maneira tão cautelosas. A primeira boia lançada foi graças ao meu avô, um simpatizante da causa comunista, que tentava quase que através de códigos informar sobre o que tinha do outro lado daquele muro. Quando tudo desabou, lembro-me dele dizendo sobre todas as mentiras que os capitalistas estavam criando para deturpar aquela que seria a grande utopia (outra boia) da geração dele. Quando fui a Berlim, eu trouxe um pedaço do muro para que ele não se sentisse tão à deriva.

Isadora Ferrite, Carol Marques e Fernanda Viacava em “Abajur Lilás”: estreia em 9 de julho no Teatro Nair Bello (Foto: Francisco Jr.)
A sua geração, imagino, começou a fazer teatro no final dos anos 80 e início dos 90. De que forma essas visões interferiram na escolha profissional de vocês?
Posso dizer da minha geração de teatro, aquela que começou nos anos 90, que éramos trabalhadores braçais, indo para as ruas colar cartazes, distribuir filipetas nas filas dos grandes teatros e esperando um dia montar um grupo como a Companhia Estável de Repertório, do Antonio Fagundes. No final dessa mesma década, com o advento das leis de incentivo, fomos colocados à margem por uma forma equivocada de distribuição desses subsídios, o que nos obrigou a romper esse limite e conquistar alguns outros recursos que pudessem fomentar nossa arte. E me vejo hoje agarrado a esses destroços que ajudaram a dispersar os tripulantes e os passageiros. Ficamos nadando à procura de alguma ilha ou até de um iceberg para aportarmos com um pouco de dignidade e conseguirmos pagar as nossas contas.
A figura do excluído ainda se mantém tão forte e presente em nossa sociedade. O teatro passou a integrar essa categoria?
Estamos falando de excluídos do ponto de vista de quem é excluído ou de quem exclui? Eu penso que eu não sou um excluído e nem procuro excluir ninguém, portanto quando começamos a pensar de quem é a culpa dessa exclusão é fácil cairmos nas costas do Estado e de novo encontramos um iceberg para nos agarrarmos. Assim, podermos nos isentar de alguma ação. O exercício da democracia é lento e requer sabedoria. Acredito em novas formas de gestão e de inclusão. Acho que vivemos uma ditadura dos desejos individuais e não das necessidades. Se realmente soubéssemos quais são as nossas necessidades e não corrêssemos tanto para satisfazer nossos desejos, acho que estaríamos abrindo um espaço maior para a generosidade.
Como surgiu a ideia de recuperar “As Moças” e Isabel Câmara?
Tinha sido apresentado a esse texto pelo Fauzi Arap há muitos anos. Depois o Eduardo Tolentino de Araújo também trouxe a ideia de montá-lo como exercício. Passaram-se vários anos até que eu soube que a Angela Figueiredo e a Fernanda Cunha estavam estudando “As Moças”. Então, eu as convidei para participarem de um ciclo de leituras com textos de autores desse período. Após um tempo, eu recebo o convite para dirigi-las.
A dramaturgia brasileira do final dos anos 60 e início dos 70 é muito pouco lembrada. Por que você acha que isso acontece?
Acho a dramaturgia desse período corajosa em dizer “não”, uma dramaturgia do “eu”, do depoimento. Ao mesmo tempo, foi uma dramaturgia econômica – são peças de dois atores, na sua maioria –, mas fecunda, criativa e inovadora, comparada com a dos anos seguintes. Como colocar em ordem as nossas ideias, reconhecendo por um lado que foi possível fazer um teatro muito estimulante nos tempos da ditadura, mas, por outro, sem correr o risco de parecer que estejamos sequer cogitando que a censura e a repressão possam eventualmente constituir elementos favoráveis à criação. Outra questão que influi nisso é a nossa angustiante e infantil busca pelo novo, em que o passado já passou e não nos interessa. O presente já está sendo feito e o que queremos é achar esse futuro. No final, chegamos ao que o Antunes Filho fala que é só a novidade e não o novo.
De um lado você tem “As Moças” e Isabel Câmara, um texto e uma autora muito pouco conhecidos. De outro, “Abajur Lilás” e Plínio Marcos, constantemente remontados. Qual texto exige mais cuidado, uma interpretação mais apurada do diretor?
Minha premissa ao montar um texto é que ele seja pretexto para repensar pontos de vista. É claro que uma obra montada muitas vezes permite que eu possa ter perspectivas diferentes, enquanto em uma quase inédita o olhar se torna mais limitado. Para um ator inglês que faz “Hamlet” existem referências de inúmeras montagens, o que lhe permite partir de alguns pressupostos já colocados em prática. Tenho com o Plínio uma afinidade quase forçada, fui me aproximando dele na marra. Minha primeiro trabalho profissional foi uma substituição em “Querô”, do grupo Tapa, em 1992. Quando dirigi “Dois Perdidos numa Noite Suja”, em 2009, comecei a relutar com a estrutura naturalista dele e, após alguns ensaios abertos com todo o ambiente canhestro de um quarto de pensão, tivemos a coragem de retirar tudo e ficamos somente com duas caixas de madeira do mercado. Aí tudo começou a ficar mais claro. O Plínio quer falar do que existe de mais humano dentro desse ser humano. Ele é considerado um autor político e, para mim, ele é, mas essas questões não podem vir à frente da relação humana.
E qual é o maior desafio de montar “Abajur Lilás”?
O desafio é trazer um texto que tem uma estrutura maniqueísta para um terreno mais ambíguo e, para isso, contei com a dedicação dos atores Jô Kowalick, Fernanda Viacava, Isadora Ferrite, Daniel Morozetti e Carol Marques, que colaboraram em despir as cores desse abajur para ver que luz ele nos dá. Já “As Moças” foi uma viagem no escuro. Primeiro porque, nos últimos oito anos, eu tinha trabalhado com elencos prioritariamente masculinos e, agora, teria que enfrentar o universo feminino e de uma autora de um texto só. Graças ao empenho da Fernanda e da Angela, nós fomos desvendando os mistérios tão obscuros de Isabel Câmara. Portanto, o apuro e a dedicação são iguais. O que difere são os pontos de partida. Um mais desvendado e outro por desvendar.

Angela Figueiredo e Fernanda Cunha em “As Moças, o Último Beijo”: cartaz da Sala Experimental do Teatro Augusta (Foto: Ricardo Martins)
Você parece um diretor muito cauteloso com o ato de dirigir… Não dirige à toa. Isso acontece porque sua prioridade ainda é a do ator ou porque o diretor só aparece na hora de uma realização pessoal?
Parte de minhas inquietudes vem da busca por linguagens que se tornem comuns aos atores. Como primeiro passo, está a necessidade de contar a história com clareza, para que o público esteja sempre bem amparado e conduzido durante o espetáculo. Sua potência multiplica-se no encontro que estabelecemos com o público. Segundo, ligado diretamente à primeira inquietude, está a procura do diálogo com a linguagem cênica realista, guia para o encontro de uma sintaxe interpretativa da cena. Defino sintaxe a trama de sentidos que o encaminhamento das ações pode gerar e, na mesma medida, uma espécie de lógica de construção cênica e dramática. A constituição artística desta sintaxe é demorada, mas quando deflagrada visualizamos um caminho concreto do fio de ação da peça, direcionando propósitos criativos para a direção e para seus percursos processuais. Ao legitimarmos essa sintaxe, muitas vezes definida por campos simbólicos e imagéticos, difíceis, mas necessários de se partilhar coletivamente, parece-me que a obra teatral começa a caminhar com suas próprias pernas. Como a descoberta de uma trilha, de um rumo, o diálogo dentro da companhia torna-se menos pessoalizado, mais profícuo e artístico. Falamos, a partir deste momento, em nome da obra, que é de todos e de cada um, não somente uma ideia, uma peça, um autor.
O diretor por acaso nasceu do professor de teatro?
Eu já dirigia antes de ser ator ou professor. A Cia. Triptal foi criada em 1990, através da persistência de alunos de uma oficina chamada Didática de uma Encenação, realizada em várias oficinas culturais do Estado. A nossa foi dirigida por uma equipe comandada pelo Elias Andreato e montamos “Desgraças de uma Criança”. Após as apresentações nos deram o cenário, o figurino e todo o resto da produção. Foi então que saímos pela estrada atrás de espaços e tivemos relativo êxito. Quando decidimos que deveríamos montar “Escola de Mulheres”, surgiu o impasse: não havia diretor. Comecei a dar palpites sobre o posicionamento dos atores pelo espaço, a criar perspectivas – vestígios da minha formação de engenheiro mecânico – e assumi a direção, ou melhor, o direcionamento dos atores. Naquela época, havia muitos festivais de teatro amador e nós frequentávamos todos. O encontro com profissionais do meio foi parte da minha formação teatral. Quando o Eduardo Tolentino de Araújo foi assistir ao nosso repertório, digamos assim, formado por “As Desgraças”, “Escola de Mulheres” e “Romeu e Julieta”, ele me disse que éramos muito caras de pau, mas que havia uma paixão instigante no que ele viu e me convidou para fazer parte do grupo profissional do Tapa. Daí virei ator e, depois, professor.
Você atuaria em uma peça que você próprio assinasse a direção ou acha que é preciso de um olhar de fora?
Eu brinco que nunca seria um ator dirigido por mim. São universos tão opostos. Adoraria ter a cabeça de diretor quando atuo e a de ator quando dirijo, mas acho impossível e talvez inviável. Quando dirijo, eu procuro ordenar todas as forças atuantes para que elas tenham uma resultante. Quando atuo é tudo mais caótico, você sabe que é uma força, mas não tem a menor ideia da direção e da carga, você até intui onde ela atua, mas nunca sabe a resultante, então é preciso do olhar externo.
Ainda está envolvido com o espetáculo “Vênus em Visom”, ao lado da Bárbara Paz?
“Vênus em Visom” fará uma pequena turnê por outras capitais e cidades do interior paulista em setembro e outubro. Estou começando um estudo sob a direção do Tolentino com várias leituras que poderão ser futuras montagens. Em julho, eu dirijo um espetáculo com três peças curtas do Tennessee Williams. Deve estrear em setembro e resultam dos estudos e traduções dentro do grupo Tapa. Em outubro, eu estreio “Histórias dos Porões”. Para o ano que vem, quero continuar com esse tema e remontar “Tambor e o Anjo”, da Anamaria Nunes, e “Moço em Estado de Sítio”, do Vianninha.
+ Leia entrevista com a atriz Bárbara Paz.
Existe uma mentalidade de que o público não quer peças pesadas e rola uma tendência de amenizar tudo o que está por aí. Quando opta por textos relacionados à ditadura militar, você vai contra a corrente. O público busca mesmo essa leveza ou foi uma mentalidade que se espalhou e acaba afastando mais ainda o público de teatro?
Esta é a grande pergunta: quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Realmente fica difícil determinar. Eu sinto que meus últimos trabalhos são para plateias menores, mais por uma questão de proximidade do que por causa do tema. Mas, é claro, que os custos não se pagam e aí as coisas ficam difíceis. Resolver essa equação não é fácil. Minha mãe sempre me pergunta o por que dirijo peças tão tristes, de onde vem tanta tristeza e minha resposta é um texto do próprio Eugenne O’Neill, de 1922:
“Claro que escreverei sobre a felicidade se algum dia chegar a encontrar-me com esse luxo e ela for suficientemente dramática e em harmonia com qualquer ritmo profundo da vida. Mas felicidade é apenas uma palavra. O que significa? Exaltação?Um sentimento intensificado do valor significativo do ser e do porvir humanos? Bem, se é isto – e não uma mera bobagem em meio à própria sorte – sei que há mais disso em uma verdadeira tragédia que em todas as obras de final feliz até hoje escritas… Eu não amo a vida porque ela é bonita. A beleza é apenas uma roupagem.Eu sou um amante mais verdadeiro que tudo isso. Amo-a despida. Para mim, há beleza até em sua fealdade.”
Confira cenas da peça “Vênus em Visom”, com Bárbara Paz e André Garolli.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=cU5y5RFDlX0?feature=oembed&w=500&h=281%5D


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Restaurante oficial do Bob Esponja tem jantares temáticos e loja exclusiva
Restaurante oficial do Bob Esponja tem jantares temáticos e loja exclusiva Mani Rego se manifesta sobre relacionamento com Davi do BBB
Mani Rego se manifesta sobre relacionamento com Davi do BBB Não foi desta vez: Mila, em Pinheiros, precisa de ajustes
Não foi desta vez: Mila, em Pinheiros, precisa de ajustes Confira a previsão do tempo para a semana
Confira a previsão do tempo para a semana Ano de 2024 terá apenas três feriados prolongados
Ano de 2024 terá apenas três feriados prolongados